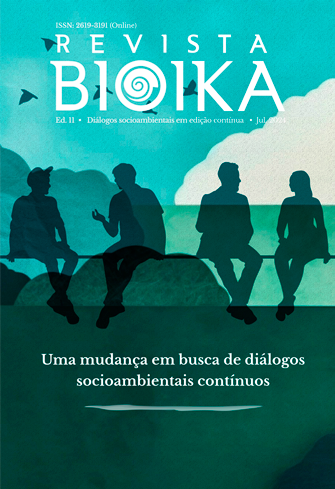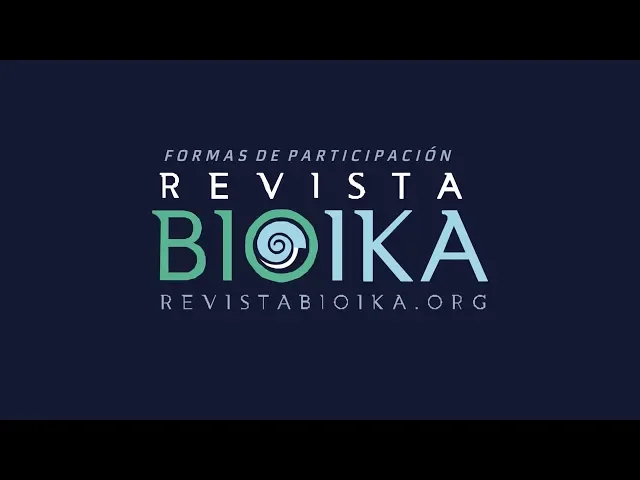--m.jpg)
Vamos falar sobre bactérias
Quando falamos de bactérias, referimo-nos a um grupo de organismos microscópicos muito antigo (localizado entre os primeiros organismos vivos que habitaram nosso planeta há mais de 3,5 bilhões de anos). As bactérias se caracterizam por serem organismos unicelulares procariontes, ou seja, não possuem um núcleo definido nem um sistema de endomembranas, como tem uma célula eucarionte. As bactérias constituem um grupo enorme de organismos com centenas de milhares de espécies que habitam todo tipo de ecossistema e estão adaptadas a quase qualquer condição ambiental.
Há bactérias, por exemplo, que sobrevivem a altas temperaturas, como as bactérias “termófilas”, que se reproduzem acima de 46°C, outras podem viver associadas à salmoura em salares de grande altitude (chamadas de “halófilas”), e muitas outras vivem no solo, sobre organismos vivos, estabelecendo relações simbióticas com fungos, plantas e animais, ou até mesmo dentro do nosso corpo. Muitas bactérias cumprem funções fundamentais para os ecossistemas, como intervir na degradação da matéria orgânica para liberar nutrientes essenciais que podem ser utilizados por outros organismos. Algumas bactérias são responsáveis por sustentar o ciclo do nitrogênio, enquanto outras são fundamentais no sistema digestivo de quase todos os animais, favorecendo a digestão e a absorção de nutrientes. Além disso, muitas são usadas na biotecnologia para remediar ambientes contaminados com metais, plásticos ou até mesmo petróleo.

Porém, no enorme consórcio de bactérias que existe, muitas espécies são consideradas patogênicas, ou seja, podem causar doenças nos organismos que infectam. Entre as doenças causadas por bactérias mais conhecidas podemos citar a cólera, a salmonela, a tuberculose, a amigdalite bacteriana, as infecções urinárias ou algumas doenças sexualmente transmissíveis como a sífilis ou a gonorreia, entre muitas outras. Para combatê-los e evitar que essas doenças fossem fatais, desde a descoberta da penicilina por Alexander Fleming, em 1928, começou o uso do que hoje conhecemos como “antibióticos”. Essas substâncias são medicamentos que combatem infecções bacterianas em pessoas e animais e atuam eliminando bactérias ou dificultando seu crescimento e multiplicação.
Quando os antibióticos não são suficientes
A resistência antimicrobiana (RAM) é um fenômeno em que os microrganismos, como bactérias, vírus, fungos e parasitas, desenvolvem a capacidade de resistir aos medicamentos projetados para eliminá-los ou inibir seu crescimento. Especificamente no caso das bactérias, o uso e o mau uso global de antibióticos levaram à evolução e propagação da resistência bacteriana a todos os antibióticos de uso rotineiro. Isso significa que os tratamentos que antes eram eficazes agora não conseguem eliminar as infecções causadas por algumas cepas de bactérias.
O problema global da RAM se agravou nos últimos anos devido a fatores como o uso inadequado de antibióticos, regulamentações insuficientes em relação à disposição de resíduos patológicos, a venda livre de medicamentos e o uso de antibióticos clínicos como promotores de crescimento no gado. Nesse sentido, os mecanismos de resistência microbiana são diversos, incluindo a exclusão extracelular, modificações ou inativações intracelulares do antibiótico, mudanças no sítio ativo, mutações que conferem resistência ou troca de genes entre cepas resistentes e não resistentes a partir de material genético contido em “plasmídeos” (pequenos fragmentos de ADN que podem ser compartilhados entre bactérias de diferentes espécies). De maneira geral, a RAM implica que as bactérias podem se adaptar a essas substâncias de forma que não causem nenhum efeito negativo. A resistência microbiana pode ser adquirida em casos em que os antibióticos são mal utilizados, como, por exemplo, interromper ou prolongar o tempo de ingestão, usar antibióticos de amplo espectro para infecções que requerem tratamentos específicos, tomar antibióticos para atacar infecções causadas por vírus ou devido ao fato de que essas bactérias resistentes ou os próprios antibióticos são transportados para o ambiente natural, como veremos mais adiante neste artigo.

Seja qual for o mecanismo de exposição, o que ocorre, em última instância, é uma seleção de indivíduos ou variedades de espécies (chamadas de cepas) que são mais resistentes. Essas cepas mais resistentes começam a se multiplicar e, em pouco tempo, se dispersam, exigindo a criação de novos antibióticos para controlá-las.
Um dos casos mais conhecidos de resistência microbiana é o da supergonorreia. A gonorreia é uma doença causada por uma bactéria chamada Neisseria gonorrhoeae e que se propaga através da atividade sexual. Para o tratamento, geralmente são utilizadas cefalosporinas ou antibióticos do tipo quinolona. Todas as infecções causadas por gonorreia são curáveis, mas há cerca de 30 anos a comunidade de saúde notou uma cepa de N. gonorrhoeae que era resistente à combinação de antibióticos comumente usados. Mesmo doses adicionais dos antibióticos que geralmente curavam a gonorreia não afetavam essa superbactéria. Embora a incidência da supergonorreia ainda seja baixa, novos tratamentos continuam sendo desenvolvidos para combatê-la.
Como curiosidade, segundo o Centro Europeu de Prevenção e Controle de Doenças e a Agência Europeia de Medicamentos, cerca de 25.000 pessoas morrem anualmente na Europa devido a infecções bacterianas que adquiriram resistência. Nos Estados Unidos, 12.000 mortes por ano ocorrem por infecções hospitalares, sendo aproximadamente 70% dos casos causados por cepas resistentes.

Segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS), a RAM é uma das dez principais ameaças globais à saúde pública e é um problema complexo que requer uma abordagem multisectorial, pois não tem uma única causa e não afeta apenas uma espécie ou setor. Nesse sentido, uma forma inovadora e integrada de abordar essa problemática é o conceito de "Uma Só Saúde" (One Health em inglês). Nesse conceito, reconhece-se que a saúde dos seres humanos, dos animais, das plantas e do meio ambiente em geral estão estreitamente interligadas e são interdependentes. Com essa abordagem, busca-se estabelecer laços de comunicação e colaborar na elaboração e implementação de programas, políticas, legislações e pesquisas que permitam enfrentar a resistência microbiana de forma integrada.
A este respeito, num estudo publicado recentemente liderado por Mohsen Naghavi, foram analisados dados de mortalidade e registos hospitalares de 204 países entre 1990 e 2021. Os investigadores descobriram que pessoas de países de baixo e médio rendimento correm alto risco e prevêem que até 2050 mais de 39 milhões de pessoas poderão morrer devido a infecções resistentes a antibióticos, sendo as pessoas com mais de 70 anos particularmente vulneráveis. Isto representa uma tendência de aumento de mais de 70% dos casos registrados atualmente. De acordo com este estudo, um maior acesso a antibióticos apropriados e um melhor tratamento de infecções poderiam salvar muitas destas vidas.
Os ecossistemas aquáticos como reservatórios de resistência microbiana
Os ecossistemas aquáticos são importantes reservatórios e meios de disseminação de bactérias resistentes e genes que codificam mecanismos de resistência. Isso ocorre porque, em muitas cidades, os resíduos domésticos, industriais e hospitalares fluem diretamente para os sistemas aquáticos conectados, assim como o escoamento das áreas agrícolas que contêm esterco de gado ou os efluentes provenientes da limpeza de comedouros, aos quais se adicionam, além da comida, antibióticos. As bactérias nesses ambientes podem trocar genes de resistência entre si por meio de diversos mecanismos, como a transferência lateral de genes, a troca de plasmídeos (pequenas moléculas de DNA codificante) entre dois ou mais organismos, ou até mesmo a aquisição de moléculas de DNA que estão livres no ambiente. Esses novos genes, em última análise, como já vimos, conferem características novas que favorecem sua sobrevivência.
As investigações sobre a ocorrência e os tipos de resistência aos antibióticos em ambientes de água doce são mais limitadas em comparação com os ambientes clínicos, onde se analisam comumente organismos indicadores como enterococos e coliformes, que são patógenos bacterianos que causam infecções difíceis de tratar em humanos. A escassez de estudos sobre antibióticos em água doce pode estar relacionada com a suposição de que as concentrações desses compostos em tais ambientes são naturalmente baixas. No entanto, mesmo com baixas concentrações de antibióticos, a seleção de cepas resistentes é possível.

A maioria dos estudos sobre a presença e o destino de bactérias resistentes a antibióticos e genes de resistência a antibióticos em corpos d'água doce, como riachos, lagos e rios, foca nas áreas de descarga de plantas de tratamento de águas residuais. As concentrações de genes de resistência tendem a ser elevadas nos pontos de descarga de efluentes dessas plantas para os riachos, mas diminuem gradualmente rio abaixo. Essa redução pode ser devida a diversos fatores, como a diluição no volume de água em que entram, a degradação por interação com elementos do meio ou com a luz, a adsorção a outras substâncias e o transporte por organismos ou pelo próprio meio aquático rio abaixo.
Além disso, os sedimentos podem atuar como reservatórios a longo prazo (para bactérias resistentes e seus genes de resistência), mesmo na ausência de antibióticos na água. Tudo isso pode representar um risco para a saúde pública, já que a água desses reservatórios é frequentemente utilizada para diversos fins recreativos (pesca, natação, esportes aquáticos) ou produtivos (irrigação de cultivos ou produção de água potável), expondo as populações humanas a essas bactérias resistentes.
Abordando o problema da resistência microbiana em sistemas aquáticos da América do Sul
Nesse contexto, com uma equipe de pesquisadores formada por biólogos, bioquímicos e especialistas em saneamento ambiental do Instituto Nacional de Limnologia (INALI, CONICET-UNL), do Instituto de Bacteriologia e Virologia Molecular (IBAVIM) e da Universidade Nacional de Buenos Aires (UBA) (todos localizados na Argentina), decidimos há mais de três anos abordar a problemática da resistência microbiana em amostras de água superficial, sedimento e biota de rios e lagoas pertencentes à bacia do rio Paraná Médio (Santa Fé, Argentina). Esses ecossistemas estão localizados muito perto de conglomerados urbanos como as cidades de Santa Fé, Santo Tomé e Rincón, sendo intensamente utilizados pela população local para uso recreativo, como receptores de esgotos pluviais, cloacais e resíduos industriais, ou como áreas de produção agrícola-ganadeira.
O foco do estudo das nossas pesquisas está na bactéria Escherichia coli. Esta bactéria é um candidato ideal para a vigilância global da resistência aos antimicrobianos em ambientes aquáticos devido à sua relevância clínica e seu uso amplo como indicador de contaminação fecal. Nossos resultados são os primeiros obtidos sobre resistência microbiana em toda a região e constituem o ponto de partida para abordar essa problemática na região Centro da Argentina, onde se concentram mais de 8 milhões de habitantes. A partir dos nossos estudos, conseguimos identificar até o momento 435 cepas de E. coli em amostras de água superficial de todos os locais estudados. Dessas, 40% mostraram resistência a pelo menos um antibiótico, com os maiores percentuais registrados para ampicilina, tetraciclina e trimetoprima-sulfametoxazol, principalmente durante as estações de inverno e primavera.

Nos sedimentos, das 247 cepas obtidas, 30% registraram resistência principalmente em sedimentos argilosos, com resistência à ampicilina, tetraciclina e trimetoprim-sulfametoxazol (igual às cepas recuperadas da água) e maior resistência no inverno.
Assim como relatado para outras regiões do mundo, em nossos estudos encontramos que, entre os locais amostrados, aqueles com maior influência antrópica, como o lançamento de resíduos domésticos, industriais e agrícolas, apresentaram maior quantidade de cepas resistentes. Em contraste, os locais destinados ao uso recreativo (ex.: balneários) tiveram menores percentuais de cepas resistentes.
Nossos resultados destacam a utilidade da vigilância da resistência microbiana em ecossistemas aquáticos ao facilitar, por exemplo, a detecção de locais onde seja necessário intervir devido à elevada carga de cepas resistentes, identificar os antibióticos que mais resistência estão gerando e compará-los com os dados de prescrição hospitalar; bem como propor estratégias de gestão que priorizem a proteção da população e o bom estado ecológico dos ecossistemas aquáticos. Além disso, a problemática da RAM nos mostra a importância de tomar ações coordenadas a nível global para mitigar esse problema crescente, incluindo um uso mais responsável dos antimicrobianos, uma melhor gestão dos resíduos e a melhoria dos sistemas de vigilância e controle da resistência em ecossistemas aquáticos e outros ambientes naturais.
Isso foi útil?
Para mais informações:
- resistência microbiana
- antibióticos
- sistemas aquáticos
- Bottery MJ, Pitchford JW, Friman VP (2021). Ecología y evolución de la resistencia a los antimicrobianos en comunidades bacterianas, The ISME Journal, 15, 939-948. Comisión Una Sola Salud (2021). Disponible en: https://www.onehealthcommission.org/en/why_one_health/what_is_one_health/
- Hocquet D, Muller A, Bertrand X (2016). What happens in hospitals does not stay in hospitals: antibiotic-resistant bacteria in hospital wastewater systems. Journal of Hospital Infection 3, 395-402.
- Informe de la Organización mundial de la Salud sobre Resistencia a los antimicrobianos (2023). Disponible en https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/antimicrobial-resistance
- Kümmerer K (2016). Presence, fate and risks of pharmaceuticals in the environment. En: Green and sustainable medicinal chemistry: methods, tools and strategies for the 21st century pharmaceutical industry (pp. 63-72). The Royal Society of Chemistry, Inglaterra.
- Marti E, Variatza E, Balcazar JL (2014) BalcazarThe role of aquatic ecosystems as reservoirs of antibiotic resistance. Trends in Microbiology 22, 36-41.
- Naghavi M, Vollset SE, Ikuta KS, et al. (2024). Global burden of bacterial antimicrobial resistance 1990–2021: a systematic analysis with forecasts to 2050. The Lancet, DOI: 10.1016/S0140-6736(24)01867-1
- Nnadozie CF, Odume ON (2019). Freshwater environments as reservoirs of antibiotic-resistant bacteria and their role in the dissemination of antibiotic resistance genes. Environmental Pollution 254, 113067.
- Wales AD, Davies RH (2015). Co-selection of resistance to antibiotics, biocides and heavy metals, and its relevance to foodborne pathogens. Antibiotics 4, 567-604.
- Walsh TR, Weeks J, Livermore DM, Toleman M (2011). Dissemination of NDM-1 positive bacteria in the New Delhi environment and its implications for human health: an environmental point prevalence study. The Lancet Infectious Diseases 11, 355-362.
- Williams‐Nguyen J, Sallach J ., Bartelt‐Hunt S, Boxall AB, Durso LM, McLain JE, Singer RS, Snow DD, Zilles JL (2016). Antibiotics and antibiotic resistance in agroecosystems: state of the science. Journal of Environmental Quality 45, 394-406.